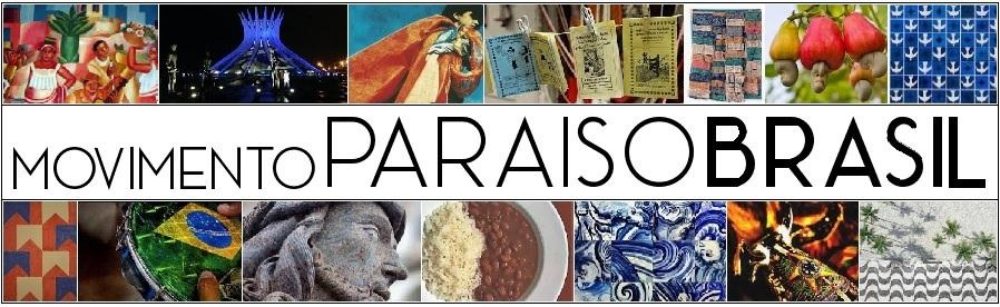Uma vez desencadeada a crise de 1929, a armadilha catastrófica da II Guerra Mundial não mais poderia ser desarmada. A crise de 29 levou o mundo a situação em que a guerra se tornaria o único destino para todos os caminhos possíveis, porque havia excesso de capital, excesso de fábricas e não havia consumidores para isso.
Os gastos do governo em armamentos e o fechamento do mercado a importações de países estrangeiros eram uma solução simples disponível. Tudo seria mais fácil se o estrangeiro fosse visto como inimigo. Só assim os grandes capitalistas e bancos cederiam ao governo o direito de fazer déficit público.
Como Keynes demonstrou três anos antes do início da Guerra, a saída da depressão exigiria pesados gastos sociais e investimentos públicos gerando déficit no orçamento estatal. Entretanto, as elites empresariais e financeiras do Ocidente não aceitavam gastos sociais e investimentos públicos deficitários. Para eles, déficit público só seria aceito se fosse para compra de armamentos, como fizeram os alemães. Preferiam continuar na depressão a aumentar significativamente os investimentos públicos em infraestrutura e os gastos sociais.
Quando a Guerra se tornou inevitável, todos entraram felizes na corrida armamentista deficitária. As explicações políticas para esse comportamento da elite empresarial estão em um artigo de Michal Kalecki, cuja tradução está republicada no livro de Gustavo Galvão As 21 lições das Finanças Funcionais.
Dessa forma, a depressão induzia como saída econômica e política que os países mais agressivos se aventurassem em uma corrida armamentista, que logo seria copiada pelos menos agressivos.
Mas a Guerra não tinha apenas origem econômica. Os ingleses e estadunidenses queriam a Guerra, porque, preservados pela proteção de suas “ilhas” geopolíticas, sabiam que franceses, alemães, soviéticos, chineses e japoneses – presos a seus cruéis carmas geográficos – seriam os maiores perdedores, qualquer que fosse a forma da guerra.
Em termos dos interesses anglo-saxões, a Primeira Guerra ainda não havia concluído seu objetivo de enfraquecer, definitivamente, Alemanha e Rússia/União Soviética, principalmente, e França secundariamente. Agora, nos anos 30, ainda havia o risco de emergência do Japão e a imensa riqueza da China estava à mercê dos soviéticos e japoneses. A Guerra Total passou a ser objetivo prioritário da geopolítica anglo-saxã e sua elite financeira.
Evidentemente, os Estados Unidos da América (EUA) se saíram na Guerra muito melhor do que a Inglaterra (Reino Unido – UK), mas as altas finanças de ambos ganharam juntas e desde então não sofrem concorrência de qualquer outra praça financeira mundial.
Todavia, especialmente depois da calamidade que foi a Primeira Guerra Mundial, a decisão de iniciar a Guerra precisava de razões ou justificativas que fossem muito além da geopolítica. A economia-mundo, comandada a partir repúblicas ocidentais modernas, europeias, estadunidense e seus sistemas políticos nacionais, tendiam a não ser favoráveis à Guerra Total.
Primeiro porque as relações de comércio e investimento internacionais seriam fortemente afetadas, assim como todas as economias domésticas. A prosperidade geralmente traz prudência, cautela e atitudes conservadoras em relação ao risco. Em geral, capitalistas e classe média poderiam apoiar com prazer pequenas guerras coloniais para escravizar povos “rebeldes”, mas não quereriam destruir seus negócios internacionais, nacionais e suas famílias em guerras dentro de sua própria casa.
Segundo, porque, ainda que imperfeitos, os sistemas de freios e contrapesos do sistema republicano ocidental – como oposição, situação, parlamento, imprensa, “liberdade de imprensa”, sindicatos, partidos, poderes independentes etc. – tendiam, normalmente, a tornar as estruturas econômicas, políticas e sociais favoráveis a mudanças graduais e conservadoras e reativas contra mudanças bruscas, especialmente se envolviam riscos excessivos.
Terceiro, porque ninguém poderia dizer que desconhecia esses riscos. As feridas expostas da Primeira Guerra Mundial ainda ardiam. Dessa forma, se a prosperidade dos anos 20 era desfavorável à guerra, a calamidade econômica dos anos 30 e os consequentes fechamentos dos mercados ao comércio internacional tornavam as sociedades nacionais menos sensíveis aos imensos riscos da Guerra Total.
Nem a publicação da Teoria Geral de Keynes, nem as experiências iniciais da social-democracia, como na Suécia, e o New Deal nos EUA, que eram alternativas social e politicamente eficazes contra a propensão à Guerra, puderam ser aplicadas de forma plena e espalhadas por todos os países potencialmente belicistas a tempo de evitar a Guerra, incluindo obviamente os próprios EUA e a Inglaterra, onde essas ideias sofreram forte resistência da elite empresarial, política e financeira.
O espectro da Guerra volta a assombrar
A crise de 2008 maculou a perspectiva de hegemonia econômica e financeira da Pax americana que reinava inconteste desde a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A partir de 2009, crise e medo do avanço industrial chinês levaram as potências ocidentais a se fecharem em políticas protecionistas, mais ou menos dissimuladas.
Os EUA reduziriam de forma inédita suas taxas de juros a zero e compraram volumes imensos de títulos de longo prazo, públicos e privados (quantitative easing), para desvalorizar o dólar e subsidiar o investimento industrial; também subsidiaram a produção de petróleo, gás e eletricidade para prover custos baixos a suas indústrias e transportes e estatizaram indústrias para impedir que fossem fechadas ou compradas por estrangeiros. Adotaram ainda uma série de medidas protecionistas específicas como reserva de mercado nas compras públicas, conteúdo nacional etc.
Os europeus também aumentaram sua legislação protecionista, inclusive em compras públicas, reduziram suas taxas de juros e injetaram montanha de liquidez na economia para impedir a valorização do euro. E promoveram a política fiscal altamente contracionista, especialmente na periferia europeia, quando a crise ainda não havia passado, produzindo grave depressão nessas economias, afundando o consumo e o investimento imobiliário e levando ao limite do colapso do sistema bancário.
Todos esses efeitos ajudaram a produzir a desvalorização do euro, reduzir as importações e produzir o imenso aumento do superávit em conta corrente da Zona Euro, o que é o principal objetivo de qualquer política protecionista.
Para que as políticas altamente protecionistas do Ocidente funcionassem sem reação dos países emergentes, foi criado o grupo G20, em substituição (temporária) ao G7, para coordenar a saída mundial da crise financeira criada pelas grandes potências da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
As reuniões do G20 preconizavam aumento do gasto, do consumo, a não desvalorização cambial e o déficit público nos países em desenvolvimento para absorver o excesso de produção que seria despejado neles por meio das políticas protecionistas europeias e estadunidenses.
Agora que esses países já saíram da crise, o G20 perdeu importância, e o G7 volta a ser a instância máxima de coordenação global aceita pelas velhas potências.
Essas políticas destruíram a capacidade de crescimento e financiamento externo de países mais ingênuos e abertos ao exterior como Brasil, Argentina, México, Chile e, de certa forma, Turquia. Mesmo Venezuela e Irã sofreram com a queda do valor das commodities em consequência da política de substituição de importações e redução do consumo nos países centrais.
Também China e Rússia e os já velhos tigres asiáticos tiveram substancial queda em seu crescimento ou de seu diferencial de crescimento em relação à média mundial após a ressaca das políticas altruístas de salvamento dos ricos que se adotaram a partir de 2009.
A Índia é um país que manteve a alta taxa de crescimento, em parte talvez porque promete aos EUA ser um contraponto à China, mas esse crescimento também não se parece tão sustentável porque está apoiado na dificuldade de expandir as exportações industriais no mesmo ritmo.
O esgotamento da recuperação da crise de 2008
O resto do mundo viu o crescimento de suas exportações caírem fortemente em razão dessas políticas. Mesmo a China, cujas exportações cresceram a dois dígitos por 30 anos, teve suas vendas externas estagnadas e acabou tomando a decisão de reduzir significativamente sua taxa de crescimento pela primeira vez em quase 25 anos.
Em consequência dessas políticas, boa parte dos chamados emergentes sofreram crises econômicas e de balanço de pagamentos, sendo Turquia, Argentina, Chile e, principalmente, Brasil os casos mais paradigmáticos. O Brasil está sofrendo há cinco anos uma crise econômica maior do que a maioria dos países teve na famosa Grande Depressão. Isso em meio a uma taxa de crescimento mundial relativamente alta.
Evidentemente isso não decorreu só da queda das suas exportações de manufaturados e do preço das commodities a partir de 2014. Mas essa queda nas exportações fez com que o tripé macroeconômico entrasse em falência e colocasse no córner a aliança do Partido dos Trabalhadores (PT) e a alta finança.
O PT preferiu perder o governo a romper formalmente com o Tripé Macroeconômico. O PT achava que o Tripé era a fundação que assentava o apoio do sistema financeiro. Morreu sem trair um milímetro de seu comprometimento com o Tripé.
Infelizmente, o Tripé não poderia ser mantido só com intenções, só o contínuo crescimento das exportações poderia mantê-lo de pé. Em 2014 já era evidente que ele era insustentável e deveria ser abandonado. Mas o governo não o abandonou em obediência ao sistema financeiro e acabou caindo com a “brocha do Tripé na mão”.
Ironicamente, o sistema financeiro não cobrou qualquer obediência ao Tripé aos governos seguintes, que apoiou com entusiasmo. Ou seja, a tentativa de manutenção do Tripé, no segundo Governo Dilma, foi um suicídio imbecil e desnecessário, mesmo para os reais interesses do setor financeiro.
O Brasil foi um caso exagerado, pela estupidez da gestão Dilma–Levy, mas a maior parte dos emergentes e do Terceiro Mundo está sofrendo com problemas em seu balanço de pagamentos ou baixo crescimento. A curta e lenta recuperação na Europa está debaixo de muitas dúvidas. Mesmo na China e na Índia, que mantêm crescimento expressivo, despertam-se dúvidas sobre a continuidade do modelo de crescimento.
Os EUA têm mantido também um crescimento razoável, mas há grandes incertezas em relação a sua continuidade, porque esse crescimento tem sido, em grande parte, sustentado por taxas de juros muito baixas, que promovem alto nível de investimento imobiliário e em outros investimentos com baixa rentabilidade e alto risco, como na indústria de gás e petróleo de xisto ou folhelhos (shale gas & shale oil), na produção em série dos chamados unicórnios (empresas nascentes que valem mais de um bilhão de dólares) e na recompra de ações por grandes empresas. Muitos acreditam que existam diversas bolhas, na Europa e nos EUA, prestes a estourar caso os juros voltem a subir.
Outros dizem que os juros não voltarão a subir, ao menos não na próxima década. De qualquer forma, os riscos para a economia mundial já existiam antes de o Governo dos EUA promover a guerra comercial contra a China e ameaçar uma guerra contra o Irã.
A guerra comercial que Trump tem promovido com diversos países nada mais é do que a explicitação da política comercial da Europa e dos EUA, desde o início da crise de 2008. Por sorte, é uma política ambígua, por parte de Trump, o que tem adiado uma generalização mundial dessa política. Caso isso aconteça, poderá prejudicar substancialmente os mercados financeiros e precipitar uma nova crise.
Já a ameaça de Guerra pode ter efeito contrário, de adiar a crise. A corrida armamentista, na medida que produz gastos públicos, torna o crescimento econômico menos dependente das bolhas e da manutenção dos juros baixos.
Já uma Guerra efetiva poderia ser mortal para a humanidade, uma vez que, como nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, os países, puxados pelo expansionismo agressivo da Otan, estão se organizando em alianças com acordos mútuos de defesa. Essa é uma situação de alta instabilidade estratégica que poderia precipitar uma guerra total, se os dois lados cometerem erros de cálculo.
Apesar do risco, imperativos estratégicos de ambos os lados têm levado à intensificação da corrida armamentista e ao fortalecimento das estruturas de alianças agressivas e operações de espionagem, sabotagem, guerra híbrida, sanções, guerras comerciais, estímulo à rebelião interna e imposição de “linhas vermelhas” que tendem a ser quebradas.
Em uma situação de equilibro estratégico nuclear instável, podemos dizer que a Guerra Total e o fim da humanidade não são um risco desprezível. Especialmente se houver, como nos anos 30, uma grave crise econômica e a falência dos aspectos de dependência benéfica entre grandes potências, que ainda existem no comércio internacional.
Mas ainda há tempo para evitar que esse risco atinja níveis altos demais, que acabem por se reforçar por efeito de autodefesa das potências e levar a um ataque preventivo, à reação e ao fim da civilização.