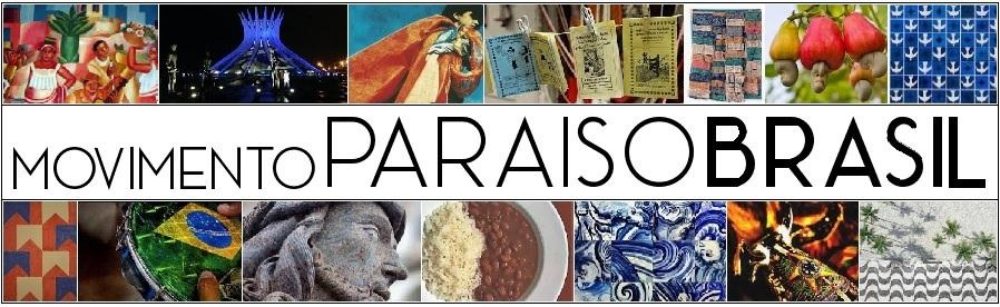O Estado-nação é o modo consagrado de organização das comunidades modernas, a tal ponto que, mesmo aos estudiosos da política, parece natural e eterno. A banalidade do objeto impede uma reflexão mais aprofundada sobre as formas e as finalidades do Estado Nacional, que, em última análise, são o que estabelecem os rumos coletivos do país, nos mais diversos sentidos.
Em primeiro lugar, é necessário advertir que não há uma fórmula universal de organização estatal. Ela existirá de tal ou qual forma dependendo da realidade histórica, territorial, religiosa, cultural, social etc. da nação.
Não existe um manual para construir Estados, de modo que, na comunidade de nações, não existe nem nunca houve um Estado Nacional idêntico a outro.
Como afirmou o historiador alemão Jacob Burckhardt (1818–1897), em seu livro A Cultura do Renascimento na Itália, o Estado é uma obra de arte. Os estadistas são os autores que, por meio da “virtú” maquiaveliana, planejam e executam suas ações de acordo com as contingências apresentadas, tendo por fim modelar todo um corpo coletivo voltado ao bem comum.
Joaquim Nabuco (1849–1910), em seu livro Balmaceda, também nos esclarece: “A política em si mesma é uma arte tão prática como a conduta do homem na vida. (…) Conhecer o seu país, conhecer os homens, conhecer-se a si mesmo, há de ser sempre a parte principal da ciência do homem de Estado.”
Urge, também, desfazer-se de concepções prejudiciais de Estado, infelizmente muito influentes, como a hobbesiana e a montesquieusiana, que estão na raiz de muitos problemas da modernidade.
A filosofia política do inglês Thomas Hobbes (1588–1679) fundamenta o Estado como Leviatã – monstro marítimo mitológico, considerado um dos Sete Príncipes Infernais, pela Igreja Católica na Idade Média. O Leviatã estatal erigir-se-ia com base no medo dos seres humanos uns em relação aos outros, com o fito de garantir-lhes a segurança biológica.
O Estado hobbesiano, assim, prescindiria da nacionalidade, uma comunhão de sentimentos entre pessoas pertencentes a um mesmo povo. Sendo os seres humanos iguais em sua natureza competitiva e predatória universal, o Estado também seria, em essência, destacado da realidade social, simbólica e afetiva dos cidadãos, constituindo-se em um repressor-genérico.
O Barão de Montesquieu (1699–1755), se, por um lado, assentou a sua teoria do Estado em uma teoria da sociedade, entendendo cada formação estatal de acordo com as bases físico-climáticas, sociais e morais do país, por outro lado, foi o idealizador da separação de funções do Estado em distintos poderes, o que, na prática, conduziria à fragmentação da soberania e ao enfraquecimento da soberania estatal.
Em sua concepção, o “equilíbrio” de poderes públicos e de forças sociais caracterizaria a “moderação” política, esteio da liberdade, em contraste com o “despotismo”, celeiro do medo, próprio dos impérios orientais, onde não haveria restrições à capacidade do soberano de interferir socialmente.
As concepções hobbesiana e montesquieusiana, em conjunto, formam o arcabouço da teoria liberal do Estado, máximo no polo da segurança privada e mínimo ou inexistente para prover os demais aspectos da cidadania, deixando livre o exercício do poder privado, que a história do capitalismo já mostrou à exaustão ser tão ou mais temível que o despotismo estatal.
O Estado, para proteger a soberania e promover a cidadania, não pode ser o Estado despótico de Hobbes tampouco o Estado parcelado de Montesquieu. O Estado deve representar, em termos institucionais e administrativos, a sua respectiva comunidade nacional e orientá-la para a realização dos seus mais nobres desígnios.
O Estado, fundamenta-se, assim, não no medo das pessoas, mas na esperança, não no isolamento natural dos indivíduos, mas na sua comunhão patriótica em torno dos símbolos, valores e do patrimônio físico (territorial, natural e econômico) do país. Por isso mesmo, deve ser uno e indivisível, como a Nação que representa, e deve organizar-se conforme o caráter e a realidade do país, para melhor representá-lo.
Nesse sentido, vale a pena resgatar, de forma crítica e não automática, a concepção aristotélica de Estado. Para o filósofo estagirita, o Estado é a própria comunidade organizada para alcançar, pelos próprios meios, o bem comum e a boa vida. Nele, os cidadãos vinculam-se entre si pela Justiça, isto é, pela busca da mediania, em termos sociais e de conduta, e da felicidade.
Aristóteles reconhecia a pluralidade de formas organizacionais do Estado. Em sua taxonomia política, distinguiu os Estados pela quantidade dos governantes mas, sobretudo, pela sua qualidade, isto é, pela sua finalidade. As “formas boas” (monarquia, aristocracia e politia) visavam o bem comum, e as “formas ruins” (tirania, oligarquia e democracia), os interesses particulares dos seus respectivos dirigentes.
A virtude da “obra de arte” estatal consistiria pois, menos na questão de quem governa e mais na de “como governa” e “para que governa”. Cabe à soberania nacional estabelecer os seus próprios critérios de organização, tendo em vista resguardar e incrementar os padrões materiais e existenciais coletivos, ou seja, a cidadania.
Felipe Maruf Quintas é doutorando em Ciência Política na Universidade Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador aposentado.
Esse artigo foi retirado da publicação feita no site “Monitor Mercantil”, do dia 18 de maio de 2021.