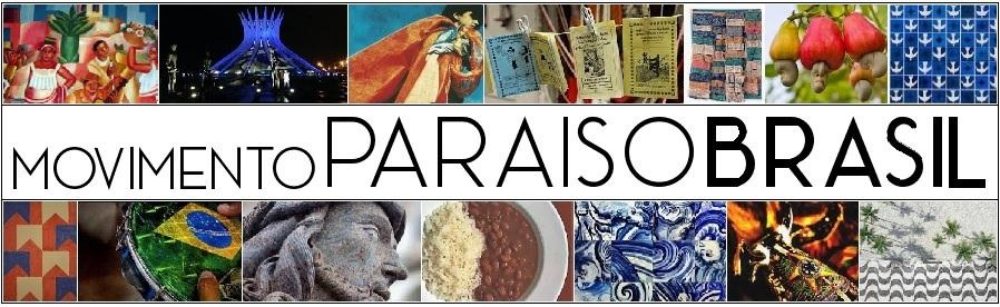Ao que parece, a aprovação da resolução pró-OTAN, na quinta-feira (23 de fevereiro) pela ONU, não terá significativos efeitos práticos, a não ser aferir quais as alianças gerais de cada lado. A tradicional contagem de garrafinhas, como já falou alguém. Um total de 32 países se absteve e 7 apoiaram a Rússia. Em termos populacionais, perfazem 48% da população mundial.
A grande novidade, sem dúvida, é a adesão do Brasil a Washington. No entanto, penso que até mesmo essa decisão deva ser mediada. O país até agora não tomou nenhuma iniciativa objetiva contra a Rússia e – imagino – não tomará, dada a dependência do agronegócio local aos fertilizantes importados. Some-se a isso, o fato da China, alvo preferencial do Império, ser nosso principal parceiro comercial. A quebra da unidade no BRICS entra como barbeiragem da atual direção do Itamaraty. Se dependemos de várias maneiras dos países alinhados aos EUA, a convergência de interesses com o outro lado não é menor (por isso a abstenção seria a medida correta na semana passada).
Os EUA são sempre os primeiros a desprezarem deliberações da Assembleia Geral e mesmo do Conselho de Segurança da ONU. Esse comportamento se inicia na manobra para aprovar o envio de tropas à Coreia, em julho de 1950, aproveitando-se da ausência da URSS, e chega aos ataques à Iugoslávia em 1998. A intervenção de Colin Powell em 2003, sobre supostas armas químicas do Iraque, deve também entrar na conta. Quando não lhes interessa, pulam fora de organismos como OMS e CDH, sem darem satisfações a ninguém.
No teatro da guerra, por sua vez, temos desde setembro uma situação de equilíbrio de forças. Com alguma liberdade poética, podemos falar de um “empate catastrófico”. A Ucrânia infligiu uma derrota à Rússia e deteve boa parte da ofensiva invasora a partir de Kherson, e a Rússia mantém o domínio sobre a Criméia e as repúblicas independentes do Donbass. O desempate só acontecerá se e quando chegarem armas ocidentais à Ucrânia e caso Putin desate a forte ofensiva que vem anunciando.
Assim, o teor violento do documento aprovado pela ONU poderá ter efeito contrário àquele alegado pela diplomacia brasileira, para quem o texto seria um apelo à paz. Ninguém que deseje negociações para um cessar-fogo escreve que a ONU “Reitera a sua exigência de que a Federação da Rússia retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas e apela ao fim das hostilidades”. Uma redação dessas é um incentivo à radicalização do conflito e à continuidade da guerra.
Nessas condições, o Brasil jogou fora o único atributo que um país periférico, dependente e sem armas teria na atual situação, o de integrar um grupo de negociadores com alguma credibilidade entre os dois lados. É possível que tenha acabado ali a política externa ativa e altiva que, com avanços e ambiguidades, pode existir há vinte anos. Havia então uma janela de oportunidade única, quando os EUA dedicaram o melhor de sua diplomacia para a guerra ao terror, criando uma abertura para os governos progressistas da América Latina exercerem uma política externa com razoável grau de soberania. Esse mundo acabou, e agora vale o escrito por Washington: ou está comigo ou está contramigo.
Política externa independente exige mais ousadia e sofisticação. Não há indicações de que a nova direção do Itamaraty tenha tais atributos em estoque.
Gilberto Maringoni é um jornalista, cartunista e professor universitário brasileiro. É professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, tendo lecionado também na Faculdade Cásper Líbero e na Universidade Federal de São Paulo.