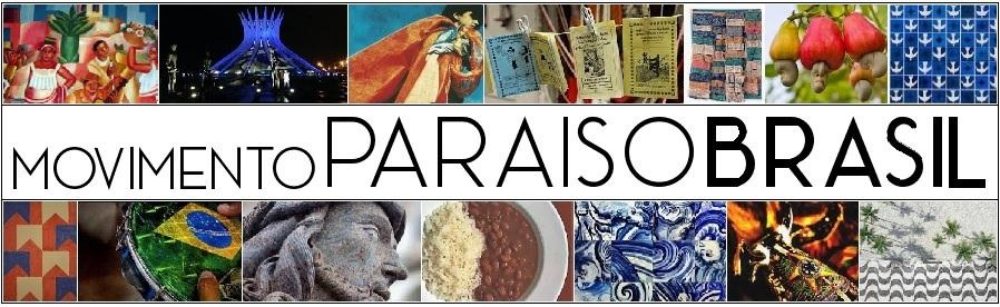Introdução
O gênio Darcy Ribeiro nos proporcionou compreender que, no Novo Mundo que os europeus iam descobrindo, abriam-se imensas possibilidades no plano do conhecimento e da ação civilizatória, porém, ocorriam igualmente construções das projeções da Europa em terras estranhas, que ainda exigiam mais deformações nas relações humanas para que ficassem iguais a Londres, Paris, Madrid ou Lisboa (“O Processo Civilizatório”, 1968).
Há 531 anos, armada para encontrar rota alternativa que possibilitasse chegar às Índias, a Europa se fez presente por Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço dos reis católicos de Castela, Leão e Aragão, em San Salvador (Guanahani, para os nativos), ilha no arquipélago das Bahamas, no Oceano Atlântico, próximas a Cuba.
E tem início a exploração e extermínio das populações locais, transportando os lucaianos, que lá habitavam, como escravos, para a ilha Espanhola, e quase dizimando a população nativa. Entre 1513 e 1648, as Bahamas ficaram praticamente despovoadas.
Assim tem início a dominação europeia da América Latina.
Não é pacífica, entre os historiadores, a época de transição dos estágios sócio-político-econômicos nos países. No século XV, quando se dá a descoberta das Américas, em qual estágio estaria a Europa? Na Idade Média, na fase Pré-Capitalista ou já viveria o Capitalismo? E qual Capitalismo, provavelmente o Comercial, porém a Inglaterra, desde o século XIV, já vivia o que se denomina hoje, Capitalismo Financeiro.
O homem (homo sapiens) chegou à América, vindo da Ásia pelo Estreito de Bering, nos anos finais da Glaciação Würn, por volta de 14.000 a 13.000 anos. Diversos estudos antropológicos certificam o que, mais recentemente, o grupo liderado por Bastian Llamas, da Universidade de Adelaide (Austrália) constatou na árvore genealógica dos primeiros habitantes: restou muito pouca descendência desta migração original.
A colonização europeia dizimou até 90% da população nativa originária, principalmente por guerras de extermínio, mas, igualmente, pela escravidão, pelos maus tratos, verdadeira desumanidade, e pela miséria, com fome e doenças, que concluíram essa matança.
“Assim, escreverei sobre o futuro porque não quero lembrar o passado. Pensamos no que vai acontecer quando dizemos a nós mesmos: como é que eu não tenha sido capaz de ver naquele tempo o que agora parece tão evidente? E como vou fazer ver no presente os signos que anunciam o rumo do futuro?” (Ricardo Piglia, “Respiração Artificial”, tradução de Heloisa Jahn, Folha de S.Paulo, 2012).
1ª Crônica: OS PRIMITIVOS HABITANTES
Como era a América quando Colombo desembarcou por aqui em 1492? Muito diferente do que nos contam os livros escolares.
Porém, desde o início do massacre, Frei Bartolomé de Las Casas na “Brevíssima Relación de la Destruición de las Índias Ocidentales” (1552) nos advertia:
“Com que direito haveis desencadeado uma guerra atroz contra essas gentes que viviam pacificamente em seu próprio país? Por que os deixais em semelhante estado de extenuação? Os matais a exigir que vos tragam diariamente seu ouro. Acaso não são eles homens? Acaso não possuem razão e alma? Não é vossa obrigação amá-los como a vós próprios?” (tradução de Heraldo Barbuy para L&PM Editores, Porto Alegre, 1984).
Utilizaremos para estas Crônicas as revelações e análises de Eulalia Maria Lahmeyer Lobo em “América Latina Contemporânea” (1970), de Pierre Jalée em “Le Pillage du Tiers Monde” (1973), de Florival Cáceres em “História da América” (1980), de Maria Ligia Prado em “A formação das nações latino-americanas” (1987), de Lilyan Benítez e Alicia Garcés em “Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy” (1989), de Michael Coe, Richard Dielt, David Freidel, Peter Frust, Kent Reilli, Linda Schele, Carolyn Tate, Karl Taube em “The Olmec World: Ritual and Rulership” (1995), do surpreendente Charles C. Mann em “1491 – novas revelações das Américas antes de Colombo” (2005), de Brian R. Hamnett em “História Concisa do México” (2016), de Georges Baudot e Tzvetan Todorov (organizadores) em “Relatos Astecas da Conquista” (2019), e de José Gregorio Linares em “Bolivarianismo versus Monroísmo” (2020), além de artigos disponíveis ao público, em meios digitais.
Na maioria dos livros, lamentavelmente os escolares, nosso continente é descrito como vasto território, pouquíssimo povoado por homens primitivos, cujas culturas, inevitavelmente, se curvaram diante do poderio europeu.
No entanto, o que Charles Mann – um historiador com alma de jornalista investigativo, que colabora com as revistas “Science” e “Atlantic Monthly” – descobriu foi o que, nas décadas mais recentes, alguns pesquisadores já encontram respostas.
Os textos de Mann revelam realidade muito diferente do que pensa a maioria dos americanos e europeus, e é pouquíssimo conhecida fora dos círculos acadêmicos especializados. Mas todos têm característica comum: sugerem que muito do que acreditamos está errado.
Mann conta que, em 1491, havia provavelmente mais pessoas vivendo nas Américas do que na Europa. Cidades como Tenochititlán, a capital asteca, reuniam populações muito maiores do que qualquer cidade européia contemporânea e, à diferença de muitas capitais no velho mundo, tinham água corrente e ruas limpas e ajardinadas. E, detalhe: as primeiras cidades no continente já prosperavam antes mesmo de os egípcios terem construído as suas grandes pirâmides.
Charles Mann sabe que muito do que relata é especulação, e ainda requer aprofundamento e pode inclusive sofrer mudanças com o passar dos anos. No entanto, suas descobertas chamam a atenção para o olhar relativista, que evita o etnocentrismo recorrente dos livros com foco na chegada dos europeus.
Por isso mesmo, a intenção de C. Mann não é fazer o relato cronológico e sistemático do desenvolvimento cultural e social do Hemisfério Ocidental antes da chegada dos europeus. Tampouco quer traçar a história intelectual das mudanças recentes de perspectiva, entre os pesquisadores que estudam os primeiros americanos. Em vez disso, “1491” explora os três focos principais das novas descobertas: demografia índia, origens índias, e ecologia índia.
Considerando que tantas sociedades diferentes ilustram esses pontos de modos tão diversos, Mann escolheu exemplos entre culturas que estão melhor documentadas ou que chamaram a mais atenção, ou que pareceram mais intrigantes.
Como é o caso da nova versão da vinda dos primeiros americanos, que podem não ter migrado pelo estreito de Bhering em 12 mil a.C, como se aceita, mas sim pelo Pacífico, de barco, dez ou vinte mil anos mais cedo.
Ou a revelação de que, no México, os índios pré-colombianos desenvolveram o milho através de processo reprodutivo tão sofisticado que a revista Science o descreveu recentemente como a “primeira e talvez maior proeza de engenharia genética da humanidade”; ou ainda, os estudos que indicam que, na Amazônia, eram capazes de cultivar a floresta tropical sem destruí-la, processo que hoje os cientistas tentam recuperar.
O neolítico americano difundiu-se a partir de dois focos: mesoamericano e andino; e originou duas grandes tradições agrícolas: a baseada na semeadura (milho, feijão, quínua) e outra na plantação de mudas (batata, mandioca, batata-doce). Durante milênios, são três os complexos agrícolas que se desenvolvem no continente: o andino, onde predominam os tubérculos, o mesoamericano, predominando o milho, e da bacia do Amazonas até a costa atlântica, predominando a mandioca.
O milho pode ter sido domesticado já por volta de 9 mil anos atrás, e tornou-se o alimento básico da maior parte do Novo Mundo. Sua importância para os povos americanos é inconteste: o milho está presente em diversas cosmogonias e mitos, sobretudo na Mesoamérica.
Foram produzidas muitas variedades, não apenas em tamanho, cor e propriedades, mas também em viabilidade sob diferentes condições de umidade, temperatura, solo etc.
O acréscimo do feijão à dieta, ao redor de 6 a 8 mil anos atrás, foi conquista da maior importância, segundo Betty Meggers (“A sequência arqueológica da Ilha de Marajó, Brasil”, 1952, e “Amazônia: A Ilusão de um Paraíso”, 1976), com referência especial à Cultura Marajoara, devido a circunstâncias bioquímicas: a combinação de milho e feijão fornece dieta significativamente mais rica do que qualquer dos dois alimentos sozinhos.
Na área andina, o registro arqueológico é menos completo, mas evidências apontam que a domesticação do feijão foi mais recente. Apesar da domesticação das plantas, a dieta de proteína animal continuou a ser usada, devido à criação de lhamas e alpacas. Entre seis e quatro milênios atrás, a agricultura estava suficientemente desenvolvida para sustentar modos de vida sedentários no altiplano andino. Prova disso são os inúmeros registros cerâmicos encontrados, além de indícios de domesticação de tubérculos.
A essas culturas incipientes dos Andes, anteriores ao advento da agricultura e da cerâmica, corresponde a cultura lítica de Viscachani (cidade na Bolívia, à altitude de 3.842 metros, localizada no município de Patacamaya, na província de Aroma), com suas pontas de projéteis toscamente lascadas e de dimensões relativamente grandes, indicando seu uso na caça de grandes mamíferos.
Após sucessivas adaptações, tendo já domesticado plantas e usando cada vez mais animais na alimentação, as culturas andinas entre cinco e quatro milênios atrás já se mostram plenamente caracterizadas pelo uso de tubérculos e camelídeos na alimentação (lhama, alpaca, guanaco e vicunha).
Esse modo de vida parece ter desafiado cataclismos e impõe-se até os dias atuais por todo o altiplano. Hoje são consumidos nos Andes basicamente os mesmo alimentos que eram consumidos há cinco mil anos: quínoa, batatas, milho e carne de lhama (em adição à de ovinos e caprinos, trazidas com os europeus).
A antiguidade americana, a despeito da ruptura que representou a invasão europeia, continua adentrando o presente no modo de ser intrínseco das sociedades locais: a vida da maioria dessas populações, mesmo hoje, é atravessada por influências que datam de milênios.
Isso é visível na alimentação, no tipo de construção que fazem (pedras sobrepostas sem argamassa, casas de adobe com teto de palha selvagem etc.), nos padrões cerâmicos, nos padrões geométricos dos tecidos, em instrumentos musicais, na indumentária etc. Mesmo as vassouras utilizadas hoje na limpeza urbana na Bolívia são feitas a partir da “paja” selvagem (em quêchua, ichhu; em aimara, wichhu), planta endêmica do altiplano, utilizada há muitos séculos para confeccionar telhados, vassouras, e também como uso medicinal, no tratamento de várias enfermidades.
Essa antiguidade tão peculiar somente aparece em sua complexidade quando história e arqueologia se articulam à cosmovisão e ao cotidiano dessas sociedades. Novos parâmetros se fazem necessários no estudo desses povos americanos. Como qualquer outro conceito de antiguidade, também aqui se fala de antiguidade relativa e que necessita ser compreendida em seus próprios termos.
Uma forma possível de se entender esse registro temporal, tão diferente do europeu, é através da cosmovisão dessas sociedades.
Nos Andes e em vales adjacentes, durante a época incaica, existem registros de que o mundo era pensado como uma totalidade tripartida em reinos (pachas) que, ao mesmo tempo em que eram distantes uns dos outros, deviam estar harmonizados e conectados dinamicamente.
Essa intercomunicação dependia da ação dos sacerdotes em elaborados rituais, e só era plenamente estabelecida pelo próprio Inca, cuja função era justamente zelar pela harmonia entre as pachas.
“Hanan pacha” é a esfera celestial, que engloba deuses como o arco-íris, a lua, o raio, o trovão etc., tendo como divindade máxima Wiracocha-Inti, representado na época incaica pelo sol (em quêchua, inti). “Uku pacha”, ou “Urin pacha” é o inframundo, mundo dos mortos, dos espíritos, das enfermidades, era reino de Pachamama, a dona da terra e, portanto, dos alimentos e da sobrevivência humana.
Da interação e vinculação entre Wiracocha-Inti e Pachamama, entre o céu e a terra, nasce o “Kay Pacha”, o mundo em que vivemos, que inclui os seres humanos, plantas e animais, montanhas, lagos e rios.
Os incas foram responsáveis por se apropriar do antigo deus Wiracocha e “transformá-lo” em Inti. Inti é outra divindade, posterior ao “Wiracocha tiwanakota”, um avatar deste.
Essa representação típica de Wiracocha, estampada em tantos tecidos e bastante recorrente no artesanato andino, do norte do Chile e Argentina ao Equador, nos faz crer que os incas foram hábeis em cultuar avatares de Wiracocha e, de alguma forma, ligá-los ao culto do Sol, Inti.
O Inca, tendo ele próprio saído da terra e sendo filho do Sol, era o ponto de comunicação entre os três mundos, tendo a seu serviço toda casta sacerdotal para corroborar sua divindade através de intrincados rituais que vivificam os mitos. Pela sua própria natureza e plasticidade, o mito é sempre modificado e coberto de novas significações com o passar do tempo.
Os incas fizeram com que muitos povos dominados acreditassem que o deus que eles cultuavam era, em verdade, Inti, o disco solar que garantia e regulava todos os ciclos da vida. Isso fazia do “Hanan pacha”, o plano celestial, o espelho no qual a vida no “Kay pacha”, o mundo daqui, estava refletida.
Os nativos das Américas não percebiam o tempo de maneira linear como os europeus de então. A ideia de um tempo em si, como conceito abstrato e universal, parecia simplesmente não existir.
Apesar de enormes diferenças entre as civilizações americanas, na maioria delas, como entre os astecas e incas, o tempo era vivido como
uma simultaneidade de dimensões que agiam como engrenagens de um esquema maior. Cada engrenagem representava uma dimensão do tempo, que englobava o tempo cósmico das rotações e translações de planetas, o ciclo dos solstícios e equinócios, o tempo do plantio e da colheita, o tempo das chuvas e da seca, o tempo de vida dos homens, e o tempo absoluto dos deuses.
Essas múltiplas dimensões do tempo eram (e ainda são) expressas na linguagem – através de tempos verbais desconhecidos nas línguas indo-europeias. Eram também expressas nas festividades e rituais que marcavam a vida comunal e a relação dos homens com a colheita e a perpetuação da espécie – e ainda o são entre inúmeras comunidades.
Eram também manifestadas na arquitetura bem planejada de acordo com a ordem cosmológica: pirâmides que eram também observatórios, janelas de onde se podia observar a primeira estrela a aparecer no céu, arcos por meio dos quais se podiam festejar a entrada de um solstício.
Essa vivência de um tempo plural, dinâmica, para muito povo cíclico, não foi apagada de todo do modo de ser dos nativos.
Para o professor boliviano aymara qullana Simón Yampara (Universidad Mayor de San Simón, em Cochabamba, Bolívia, e Universidad Andina Simón Bolívar, em Quito, Equador) deve ser utilizado o termo cosmovivência e não cosmovisão, para se referir à relação dos aimaras com o tempo, com a vida, com o presente e o passado, com a tradição e o futuro.
Sua vivência das coisas do cotidiano (o trabalho, o uso de novas tecnologias, a compra de um carro ou uma casa etc.) é irremediavelmente atravessada pelo respeito e reverência que esses povos têm pela tradição, pelos ensinamentos do passado, pelos mitos que explicam a realidade e, ao explicá-la, a tornam mais simples.
Há rituais para tudo. Para obter sucesso na compra de uma casa, muitos paceños de origem aimara recorrem a um “yatiri”, seja pelas imediações da calle Sagárnaga – a famosa calle de las Brujas no centro de La Paz – seja em El Alto ou nos diversos “ayllus” que se estendem pela meseta do Collao, ou na grande feira de Alasitas, talvez a maior feira de miniaturas jamais vista.
Os yatiris, considerados hereges no período colonial, incluídos dentro do âmbito do combate às idolatrias, são hoje solicitados até mesmo pelos detentos das penitenciárias de La Paz. O típico aimara tradicional – e também o quêchua e outros povos – transita num mundo em que o natural e o sobrenatural coexistem e disputam, e somente a Dh͛alla – a reciprocidade implicada na oferenda – pode harmonizá-los.
Utilizando ervas típicas como a k͛oaà (Clinopodium bolivianum), o incenso de palo santo (Bursera graveolens) e a onipresente folha de coca (Erythroxylum coca), busca-se estabelecer a relação de reciprocidade entre o cliente e o mundo sobrenatural.
Através do ritual, o passado está exposto diante dos nossos olhos. O futuro, ao contrário, ainda não pode ser visto, pois está atrás de nossas costas. Ainda não irrompeu na roda dos tempos.
O ocidental poderia pensar que é um mundo impregnado de magia, mas o aimará compreende esses rituais como fenômenos normais e desprovidos de qualquer caráter mágico: realizado o ritual, é apenas questão de tempo para que a reciprocidade aconteça no plano material. Porque, para aquele que realiza essa cosmovivência, o natural e o sobrenatural não estão em polos distantes, mas em partes da mesma realidade, não só nos momentos mais solenes, como também na trivialidade do dia-a-dia. Se não se atinge a reciprocidade, é sinal de que o yatiri não fez um bom trabalho.
É assim que, no cotidiano dessas comunidades, o mundo das huacas sagradas, das achachilas e das almas dos antepassados estão dinamicamente conectados ao presente.
No passado desses povos, do sul dos atuais Estados Unidos das Américas (EUA) aos Andes, alguns períodos eram considerados particularmente nefastos, por encerrarem um ciclo e representarem o início de tempo novo, onde nada era previsível e onde a harmonia cósmica devia ser reconquistada através de grande rituais, que por vezes incluíam sacrifícios coletivos.
Na região do México, foi justamente num desses momentos calamitosos que surgiram os primeiros boatos sobre o avistamento de seres estranhos – não havia cavalos neste continente – e munidos de vestimentas e armas nunca antes imaginadas. Os astecas nem sequer tinham palavras para designar a maioria das coisas que passaram a ver chegando por mar, a partir de 1519, ano que representa o marco inicial da invasão espanhola.
Cortés e cerca de 500 homens chegam ao México nesse ano em que se prenunciavam grandes calamidades. Em Tenochtitlán, capital do grande império asteca, Moctecuzoma e seus sacerdotes já sentiam as angústias desse ano um-vime antes da chegada do conquistador, observando, assombrados, os vários presságios: um cometa rasgara o céu, aterrorizando a população; o templo do deus marcial Huitzilopochtli fora misteriosamente incendiado; um pássaro cinzento com um espelho na testa foi encontrado na praça maior de Tenochtitlán. O imperador passou a ser acometido de pesadelos e visões catastróficas, e os cronistas relatam um Moctecuzoma assombrado, passivo e resignado. Talvez temesse o retorno de Quetzalcóatl, que, segundo as profecias, voltaria um dia para retomar suas terras.
Narram os poetas e cantores do império asteca que as faces brancas e as barbas vermelhas dos europeus remetiam às cores do deus tolteca. Seus navios se assemelhavam a grandes montanhas no mar. Suas armas eram mágicas; suas roupas marciais eram produzidas com metal brilhante jamais visto; vinham montados em enormes bestas desconhecidas pelos nativos. Representavam mesmo a fúria e a força de deuses capazes de destruir o império. Ao passo que Moctecuzoma oferecia os mais belos presentes ao usurpador Cortés – desde ouro e jade a plumas de aves raras – populações submetidas aos astecas, como os tlaxcaltecas, tepanecas e totonacas, engrossavam o exército espanhol, oferecendo muitas vezes mais de 20 mil homens que conheciam o território e as estratégias de guerra astecas.
Este apoio de Tlaxcala e de outras cidades fortaleceram Cortés, que entrou em Tenochtitlán em novembro de 1519, estarrecido com a grandiosidade da cidade asteca. Apenas ao redor dos templos maiores, estima-se que viviam 200 mil pessoas em bairros organizados por profissões e parentesco.
A monumentalidade e complexidade de Tenochtitlán podiam ser vistas em pirâmides e templos religiosos, feiras e mercados, escolas e prédios militares, silos e chinampas, pontes e canais que interligavam a cidade criada sobre o lago Texcoco.
Em apenas dois anos, com ataques pelas ruas e canais, o fim da resistência asteca elevou Cortés a primeiro governador da Nova Espanha, instituindo a religião católica, destruindo templos e construindo igrejas sobre seus escombros, escravizando os nativos e preparando terreno para nova fase da invasão: o monopólio colonial.
Que causaram, afinal, Cortés, Pizarro e os conquistadores ao continente americano?
Apenas aparentemente conseguiram apagar os caminhos antigos. É bem verdade que vales férteis, onde outrora se plantava e colhia milho, amendoim e favas, se transformaram em deserto, pois os camponeses foram apresados nas flamejantes mitas (palavra quêchua significando turno, trabalho forçado) mineiras. Raramente retornavam, raramente se reuniriam novamente às suas famílias. A mita os desarticulava no mais profundo sentido familiar – de familiaridade sanguínea – mas também de familiaridade com a língua, o código social, o modo de ser.
Os nativos perderam do ponto de vista material, pois seus caminhos, suas casas e seus monumentos foram, em sua maior parte, destruídos, pilhados e saqueados.
Perderam também do ponto de vista espiritual, pois lhes foi imposto novo modo de pensar, o dos avós foi demonizado ao longo dos séculos. Entretanto, de quando em quando, livre de amarras, o antigo volta à cena, em inúmeras e inusitadas formas.
É a imposição de outro regime temporal aos nativos que se inscreve em todas as formas de sociabilidades vividas nas colônias latino-americanas desde a época das invasões.
Nesse regime temporal, acabaram por nos fazer acreditar, antigos e colonizados, que não possuíamos qualquer ancestralidade, apenas ossos e fragmentos relegados à primitividade. Obviamente, trata-se de enorme engano.
Hoje, a antiguidade deste continente é percebida, estudada, ensinada em escolas – é bem verdade que o Brasil é o país mais atrasado nesse sentido, sobretudo por ter retirado do currículo escolar público a obrigatoriedade do ensino da história dos povos indígenas.
É preciso resistir a essa onda conservadora que nos coloca semântica e hermeneuticamente no século XIX, com o discurso novamente eurocêntrico de que os nativos daqui não têm história, nem religiões, nem leis, nem importância no mundo globalizado e liberal.
Precisamos afirmar nossa antiguidade através do ensino, de estudos, pesquisa e divulgação do passado tão peculiar e tão interessante do ponto de vista antropológico, religioso, linguístico, tecnológico, cultural.
Nesse sentido, todo trabalho sobre história e arqueologia americana que vá à direção da antiguidade inerente a este continente não deixará de ser, também, um manifesto em favor da dignidade, da soberania dos que descendem dos povos nativos americanos.
Longe de ser reconstrução ou elucubração ideologizante, trata-se muito mais de um exercício de alteridade, da ressignificação e retomada criativa de questões fundamentais da trajetória histórica dos povos latino-americanos.
A “Reforma da Educação”, promovida após o golpe de 2016 pela Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, tornando o inglês obrigatório desde o 6º ano do ensino fundamental até o ensino médio e excluindo conhecimentos de história e cultura dos povos latino-americanos e outros que não os europeus. É exemplo do atraso civilizatório brasileiro.
Leia o texto original na íntegra.
Qual a sua opinião sobre isso? Comente aqui.