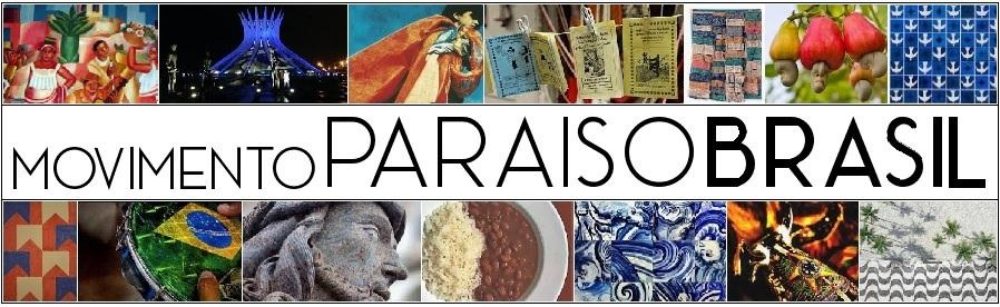Há cerca de 3,5 milhões de anos, surgiu, no que hoje é o país Etiópia, no leste da África, um primata que deu origem a este ser arrogante e belicoso que denominamos humano.
Os antropólogos consideram que se deu por condições de calor e de umidade, não encontradas em qualquer outra região do Planeta, possibilitando o surgimento e o desenvolvimento deste bípede, com cérebro maior, capaz de formular conceitos abstratos, que dominaria a natureza e os demais seres vivos.
A Terra, muitíssimo mais antiga, já passara por diversas fases, de frio e de calor intensos que fizeram surgir e desaparecer outros seres vivos, vegetais e animais.
Ao surgir este australopiteco, na depressão de Afar, o mundo acabava de passar pela última das épocas glaciais que concentrara a água dos oceanos e mares em blocos de gelo nos polos do planeta.
Este fato permitiu que os australopitecos afarenses se espalhassem, ao longo de séculos, por todas as áreas emersas da Terra, utilizando apenas da energia do próprio corpo.
Nesta caminhada, por vales, montanhas, planícies e no que viriam, na época interglacial, se transformar em oceanos, seu cérebro privilegiado foi acumulando e refletindo sobre as experiências diversificadas pelas condições geográficas, decorrentes das mudanças geológicas, da evolução de outros seres vivos, dos alimentos de que se servia e da necessidade da água doce.
Hoje, quando vivemos, seus descendentes, numa época de comunicações instantâneas, mensagens virtuais, de inteligência artificial, de alimentos e medicina que postergam a morte, temos uma percepção inteiramente distinta desses nossos ancestrais, cuja vida raramente chegava aos 50 anos e qualquer projeto era para ser atingido por gerações.
Assim, quanto mais andava, mais capaz de respostas aos problemas existenciais ia encontrando.
Isso talvez explique porque os deuses, criados para explicar o inexplicável, tenham nascidos mais perto da África e serem praticamente inexistentes nas civilizações formadas no leste da Ásia.
A crença em deuses ou num único deus será talvez a primeira distinção civilizacional destes nossos pais.
E será motivo de guerras e de comportamentos radicalmente distintos.
O espírito antes do corpo
Quando Sigmund Freud (1856-1939) escreveu O Futuro de uma Ilusão (1927) já desfrutava de merecido e elevado conceito como investigador da mente humana.
Nesta obra ele diz tratar “não de um erro, mas de uma ilusão”, isto é, da questão religiosa (Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, edição Imago, standard brasileira, RJ, 1996).
Permitam-nos leitores breve síntese deste trabalho de Freud.
Como se verá, estão neles analisados muitos dos percalços que a Humanidade encontra e encontrará para que um novo momento civilizatório seja atingido pela população da Terra.
Freud destaca “quatro bens civilizacionais”:
- 1) o nível moral dos participantes;
- 2) o patrimônio de ideais;
- 3) as criações artísticas; e
- 4) suas ilusões, as ideias religiosas.
Associemos estes bens ao que se encontra neste século 21 pelo mundo fora da órbita chinesa.
Que nível moral o prezado leitor pode atribuir ao mundo invadido por fake news?
Que reescreve a história para justificar genocídios?
Que busca na dominação bélica a expropriação de riquezas naturais, desigualmente distribuídas pelo planeta?
Que usa a riqueza para corromper?
Quais ideais levam um povo à morte, como ocorre com os palestinos, ameaçam populações inteiras de países para manter um domínio injustificável, como sofrem os latino-americanos diante do monroísmo versus bolivarianismo, que ideal saqueia o Continente Africano levando morte fratricida, antagonismos onde o humano seria a união vencendo a natureza hostil?
Freud não discorre sobre “criações artísticas”, apenas menciona o prazer que elas produzem, possivelmente estéticos e, assim sendo, datados.
Mas as ilusões religiosas transbordam no mundo plutocrático, neoliberal financeiro.
Não é fácil nem existe qualquer instituição que quantifique o fenômeno religioso no mundo.
Estima-se que existam entre 4 mil e 10 mil religiões, ainda que, na grande maioria, praticadas por pequenos grupos de seguidores e regionalmente localizados.
Outras criadas como reforço a questões econômicas, como os neopentecostais, surgidos nos Estados Unidos da América (EUA), em 1975, na disputa pelo poder entre os capitais financeiros e os capitais industriais, calcada em uma “Teologia da Prosperidade”, pró-finanças.
The Global Religious Landscape, Fórum sobre Religião e Vida Pública da Pew Research Center, laboratório criado em 2004, nos EUA (Washington, D.C.), afirma em relatório de 2010 que “uma em cada seis pessoas em todo o mundo (1,1 bilhão, ou 16%) não tem afiliação religiosa”, e “isto faz com que os não afiliados sejam o terceiro maior grupo religioso do mundo, atrás dos cristãos e dos muçulmanos, e aproximadamente igual em tamanho à população católica mundial”.
Da Pew Research Center, em 2014, tem-se para os EUA a seguinte distribuição das religiões: cristãos, 71,2% (protestantes, 46,7%; católicos, 21%; mórmons, 1,6%; e outras designações cristãs, 1,9%); sem religião, 23%; outras religiões, 5,8%.
A mesma instituição fez o levantamento da religiosidade na República Popular da China (China), em 2012, obtendo os seguintes números: sem religião, 52,2%; cultuam ancestrais, 21,9%; budistas, 18,2% – total não teístas: 92,3%; cristãos (católicos e outros), 5,1%; islâmicos, 1,8%; diversos, 0,8%.
É importante assinalar que budistas, assim como confucionistas, e mesmo marxistas, seguem uma filosofia, não um Deus que governa sua vida a sua revelia e o carrega após a morte.
Igualmente importante, para a análise que se fará, é conhecer as religiões na Rússia. Levantamento de 2017 indicou que a religião ortodoxa é a crença de 71% da população, seguida por sem religião, 15%; pelos islâmicos, 10%; católicos romanos e outros cristãos, 3%; e outros credos, 1% (Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, 2020).
Passando quase todo século 20 em disputas ideológicas, e constatando que interessa a alguns grupos políticos prossegui-las no século atual, torna-se muitas vezes até estranho rever a repartição dos poderes mundiais sob outros critérios.
No entanto, são novos critérios e as associações de mais do que único pensamento ou de grupamentos populares num país ou entre nações que permitirão melhor compreender as alianças feitas e desfeitas neste momento em que a extrema direita parece ganhar força eleitoral, países perplexos se equivocam nas parcerias, mas temem ter um socialismo nacionalista triunfante como antagonista.
História como ficção e divulgação ideológica
A história contada pelos europeus é abundante em omissões, deturpações ou, simplesmente, em mentiras descaradas.
Mas não somente pelos europeus.
Como o genial pensador Darcy Ribeiro escreve:
Nações há no Novo Mundo – Estados Unidos, Canadá, Austrália – que são meros transplantes da Europa para amplos espaços de além-mar. Não representam novidade alguma neste mundo. São excedentes que não cabiam mais no Velho Mundo e aqui vieram repetir a Europa, reconstituindo suas paisagens natais para viverem com mais folga e liberdade, sentindo-se em casa. É certo que às vezes se fazem criativos, reinventando a república e a eleição grega
(Darcy Ribeiro, O povo brasileiro: a evolução e o sentido do Brasil, Companhia das Letras, SP, 1995).
Vamos encontrar nos EUA, nas colônias europeias e estadunidenses, a repetição das mesmas invenções, das falsidades que ocultam os atos anti-humanos, a destruição de culturas, de etnias que são apresentadas como a vitória do progresso e da civilização.
Perguntem-se, caros leitores nascidos no século 20, se em algum curso de formação básica foram-lhes apresentadas a História da China, a História da Índia, milenares e de populosíssimas civilizações; se a formação da ilha e população neozelandesa foi, ao menos, esboçada em seus ensinos de história e geografia.
Não, óbvio que não, pois a Europa e seus transplantes ou projeções fora daquele minúsculo continente são de extremo egoísmo, de infantil psicológica autorreferência.
Como reflete Darcy Ribeiro na obra citada, as teorias que nos chegam, não só aos brasileiros, mas aos americanos do norte ao sul, aos africanos, aos povos do Oriente Médio eram “todas elas eurocêntricas demais”.
E por isso incapazes de nos fazer, a todos nós colonizados, entender quem somos, como nos formamos.
Há outro aspecto, também mistificador, aquele que abrevia ou dilata os tempos, oculta como inexistentes amplos períodos da história em que o homem observou, geração após geração, as persistências e as inconstâncias da natureza.
O que resta da História sem a precisão dos tempos? Uma ficção.
O historiador nova-iorquino Ray Raphael (1943), com 20 livros publicados, dentre eles o célebre People’s History of the American Revolution (2001), narrando “de baixo para cima” a formação estadunidense, escreveu, em 2004, Mitos sobre a Fundação dos Estados Unidos, a verdadeira história da independência norte-americana (traduzido por Maria Beatriz de Medina para Civilização Brasileira, RJ, 2006).
“Quando os colonos do outro lado do Atlântico chegaram ao litoral leste da América do Norte, sentiram que estavam em território desconhecido”, escreve Ray Raphael nos Mitos.
“Do Velho Mundo, importaram as tradições que os definiam como povo, já que o Novo Mundo, que tratavam como uma lousa em branco, parecia não ter história própria.
Durante mais de um século e meio, os colonos desenvolveram em casa as suas histórias locais.
Elas se mantiveram separadas e distintas até que de repente, com um evento cataclísmico, se fundiram. Este passado, desde então, serviu aos interesses da formação da nação”.
Lembrando que aportaram no que hoje são os EUA e formaram as 13 Colônias: ingleses, escoceses, irlandeses, holandeses, franceses, espanhóis, suecos e até portugueses, em diversos núcleos, quer no comércio, na agricultura quer na luta contra os povos originais.
E prossegue Ray Raphael.
“Os Estados Unidos têm uma ‘fundação’ claramente definida, como obra de uma única geração”, e ironiza: “A maioria das nações não é tão afortunada.”
Estruturas de poder e o estágio civilizatório
O embaixador e dos mais brilhantes intelectuais brasileiros Samuel Pinheiro Guimarães, em seus ensaios, desenvolveu a condição de hegemonia e periferia, como segue: Estado hegemônico é o “Estado que, em função de sua extraordinária superioridade de poder econômico, político e militar em relação aos demais Estados, está em condições de organizar o sistema internacional, em seus diversos aspectos, de tal forma que seus interesses, de toda ordem, sejam assegurados e mantidos, se necessário pela força, sem Potência ou coalizão de Potências que possa impedi-lo de agir” (S. Pinheiro Guimarães, Quinhentos anos de periferia, Contraponto, RJ, 1999).
Não sendo Estado Hegemônico, ele será periférico e dependente.
O mestre não incluía o estágio civilizatório, mas a capacidade de materialmente dominar outros Estados. Esta concepção ainda é dominante, mas não será adotada nestes artigos.
O melhor exemplo que nos ocorre é da China, aquela contemporânea da Idade Média europeia.
Como devem estar lembrados, com a queda de Roma houve a divisão do Império em duas partes.
O do Oriente, ou Império Bizantino, foi também um Estado Teocrático, mas guardou uma hegemonia na síntese cultural ocidental e a levou para outros povos, como os eslavos.
O Ocidente fragmentava-se em feudos que estagnavam e regrediam nos aspectos econômicos, tecnológicos e sociais.
Apenas usa-se a palavra servos em vez de escravos, pois o domínio da Igreja Católica não dava conforto ao poder da época para descrever uma situação social que contrariava a doutrina eclesiástica única.
Enquanto a China, do outro lado do mundo, não pensava em domínio, mas em defesa – as muralhas – e o desenvolvimento que desse melhor vida aos chineses, ou seja, um estágio civilizatório diferente da servidão, com recursos novos e mais amplamente aplicados.
Pelas novidades chinesas desta época é fácil concluir que outro estágio civilizatório era vivido por seus habitantes: bússola, carrinho de mão, papel, papel-moeda, pipa, pólvora, seda, sinos e sistema decimal.
Além do macarrão, da escova de dentes, de jogos, como o dominó, e da acupuntura.
Os números de zero a nove foram criados pelos chineses (475 a.C.), mas os hindus desenvolveram o Sistema de Numeração Decimal pelo século 6 d.C., ficando com a fama de criadores, junto com os árabes, que o divulgaram já na Era Cristã.
Com acumulação de conhecimento, já tivemos oportunidade de chamar atenção, as mudanças, o progresso da humanidade, se dão mais rapidamente, demandam menor tempo para surgirem e serem aplicadas.
Na continuação, tratar-se-á da mudança do estágio civilizatório da China e das ocorrências nas potências designadas hegemônicas.
Pedro Augusto Pinho é administrador aposentado.