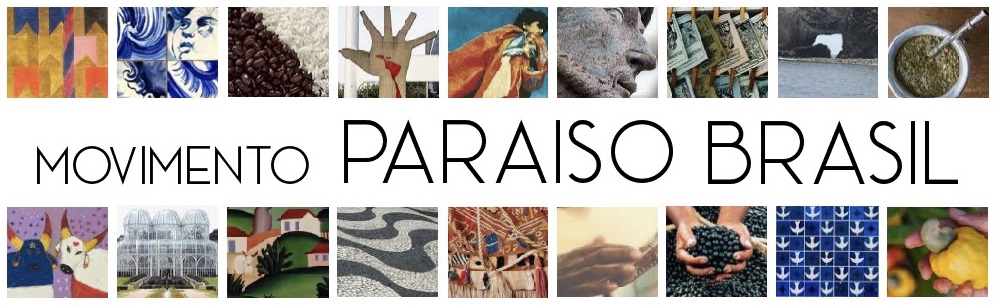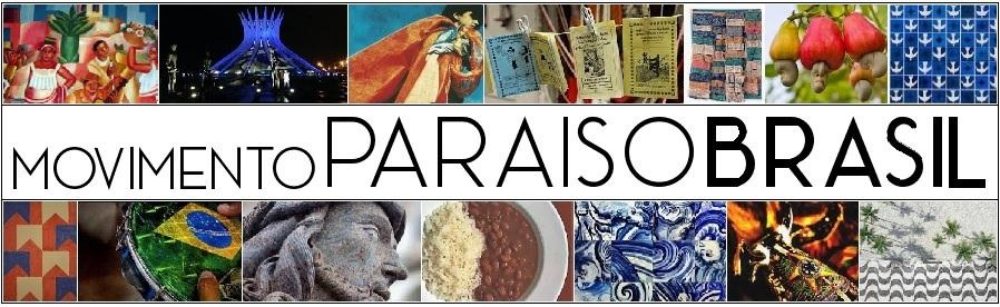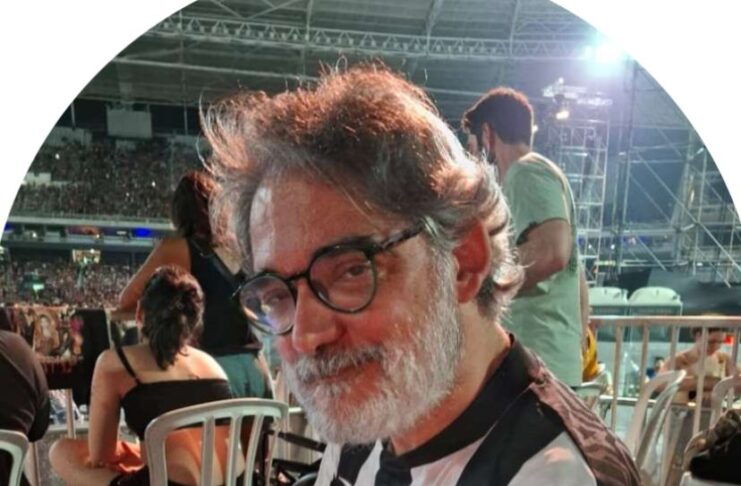Original em: https://www.afbndes.org.br/vinculo/opiniao/a-revolucao-tarifara-por-paulo-moreira-franco/
“O povo só vai começar a crer quando começar a ver sinais e maravilhas.
” Assim discursou Daciolo, no ano em que Trump foi eleito pela primeira vez.
O que vivemos hoje é um daqueles momentos únicos da história, os tempos interessantes dos chineses.
Não falo deste evento longue durée que é a mudança climática (se é que a palavra singular “evento” se aplica ao caso).
Nem falo apenas daqueles momentos em que o tempo ceifa a ilusão, tempos em que a revolução começa, o grande irmão morre, o muro cai.
O que acontece, agora, é maior. Maior que o anunciado na quadratura de Daciolo.
Até o inferno corriqueiro da história retornar, o quarto de milênio americano onde sua Pax foi enterrada no pedaço da Rússia que fora cedido por Lenin, eu tinha por canônicos dois livros.
Num, Sem Logo, da Naomi Klein, o entendimento de como a luta antissistema se configura no novo século, no mundo onde o neoliberalismo triunfou.
O entendimento de como circuitos de produção e realização das mercadorias acontecem, de como o trabalho desaparece de um lado e é superexploração do outro.
Noutro, Império, de Hardt e Negri, o ordenamento do mundo neoliberal se torna claro, acima da banalidade cotidiana de discursos pró e contra privatização, acima das instâncias banais e de decrescente importância da institucionalidade democrática nacional (a luta vai ficar para Multidão, livro seguinte).
Tudo isso foi ao mar no início da década passada, no fracasso dos Occupies, na transformação do movimento social, que seria a fonte dessa esquerda contemporânea, numa cilada fragmentária onde o establishment mantém represadas as energias revolucionárias.
O sonho de derrotar a globalização… este está morto, objetivo conquistado por um pessoal de chapéu vermelho que não é o MST.
Ardilosa, Clio, és sempre ardilosa, ó Musa!
Os black blocs de Seattle, onde estarão hoje?
Os ainda vivos, os que ainda acreditam, duvido que aceitem.
Para eles sobrou “conquistar 24 territórios à sua escolha”, já que a Globalização foi morta, morta por outro jogador, outro coletivo.
Morta, como numa boa revolução, por interesses de classe, por elites suficientemente aptas a substituírem elites superadas.
Já o Império… Pouco mais de uma década se passou entre esse ativismo antiglobalização e uma explosão em pequenos pontos locais, agora não mais guerrilha, mas Multidão, com a polifonia anarquista do “somos os 99%”, sem centro, sem comando.
Em alguns pontos isso evoluiu para populismo de esquerda no estilo Mouffe-Laclau, Grécia e Espanha como os fail again desse novo tipo de partido de esquerda.
Mas essa rebelião foi sufocada.
Sobra o botão vermelho do elevador, aquele que para o ir e vir sem alternativa das coisas.
Minha interpretação é que, embora sob o ponto de vista da articulação dos teóricos que dão origem ao pensamento neoliberal (o pessoal de Monte Pelèrin), este venha do imediato pós-guerra, e que Thatcher e Reagan (e Pinochet antes deles) sejam encarados como praticantes originais, de fato a ordem neoliberal só existe com a constituição do edifício normativo que se funda na virada para os anos 90.
Ali terminam a URSS, a bipolaridade, o comunismo, a História… e o que era encarado como uma nova etapa do imperialismo, o mundo das multinacionais, vira cadeias globais de valor.
Aqui uma breve definição de imperialismo, uma definição que vai ser útil adiante. Imperialismo acontece quando a necessidade de recursos materiais para manter o funcionamento de uma economia industrial (em geral por objetivos de política por outros meios, qual seja, eventuais guerras) leva um país a conquistar/ocupar/dotar de infraestrutura algum território no que é hoje Sul Global.
É diferente do colonialismo no qual nosso continente foi incorporado ao restante do mundo: aqui se buscava metais a servir como meios de pagamento, mercadorias exóticas a serem consumidas.
Sem trem e barco a vapor o imperialismo não se faz possível (apenas um ou outro caso menor, como a Inglaterra buscando salitre na Índia).
E assim agiram os europeus e o Japão, até o momento em que no pós-segunda guerra mundial isso começou a ser desmontado.
Afinal de contas, ambas potências que construíram a nova ordem são países continentais, com pouca necessidade de sair conquistando nacos da África para poder funcionar com relativa autonomia.
Quando veio o Império ainda há algumas sobrevivências de imperialismo, como as remanescências dos franceses na África, mas a integração do mundo se deu numa forma sem precedentes.
A escala financeira passou a ser global, com o gradual domínio dos agregadores (passivos) de capital sobre as corporações e mercados, com os bancos centrais operando em função de manter a estabilidade de um sistema cada vez mais alavancado, com cada vez menos responsabilidade com as economias locais.
As cadeias de valor substituíram o formato das empresas multinacionais, não mais produzindo nos países centrais, mas agregando componentes de diferentes continentes num único produto.
Quase sempre agregando componentes que sequer produzem, cadeias produtivas que envolvem várias empresas, especializadas, eficientes.
Naquele momento Seattle, isso é visto como essas empresas multinacionais buscando trabalho barato no Sul Global.
É uma explicação convincente, remete ao jovem Engels descrevendo as condições de trabalho do proletariado inglês, mas o que aconteceu foi mais complicado.
As empresas não ganham propriamente eficiência com esse processo de terceirização.
Pensem o caso da Boeing, por exemplo, cujos fracassos de um quarto de século para cá são notórios.
Mas não é por aí que se mede o sucesso.
O sucesso medido pelo preço da ação decorre de manipulações financeiras, (por exemplo) de gastos que não são cometidos no trimestre ou da recompra de ações.
O mundo cresce com esse modelo.
Cresce de forma desigual, a curva do elefante do Branko Milanovic.
Os trabalhadores da Ásia e suas classes médias, crescem.
O 10% dos mais ricos dos EUA e o 1% da periferia também.
Os trabalhadores americanos, a sua pequena burguesia, esses são empobrecidos no processo.
Esse mundo local, produtivo, material, é esvaziado em função do poder e riqueza que se concentram os nodos desses novos fluxos.
Você pode entender isso como um processo natural.
Você pode entender isso, alternativamente, como um processo político.
Seja como as regiões que operam esses mercados financeiros valorizando seu território, tomando controle da riqueza; seja como a tomada de poder gradual dos “clérigos” da gestão das empresas em detrimento dos operários, dos engenheiros, dos pequenos provedores de serviço do mundo local.
É sob esse contexto que se deve apreciar a revolução em curso nos EUA, revolução tão complicada para nosso tempo como foi a revolução francesa para o seu.
Embora a França não fosse dominante no sentido econômico, do ponto de vista cultural, simbólico, a França era o centro da Europa.
O francês foi a língua diplomática do século XVII (quando a Reforma fez com que o latim perdesse sua centralidade) até o pós-Segunda Guerra (quando a ascensão de uma ignorante América levou o inglês a se tornar língua franca).
A revolução de 1789 é um sobressalto para todo o mundo europeu, especialmente se você levar em conta que a aristocracia europeia é, em parte, transnacional, com casamentos que atravessavam fronteiras, com posições eclesiásticas que envolviam negociações entre diferentes poderes terrenos.
Seja a meritosa esquerda brâmane, acumuladora de virtudes; seja o centro liberal, com sua fé nisso que está aí, agora com mais tecnologia e mais inclusividade; ambos são o ex-presente em cujas gargantas o tempo agora passa sua foice.
Para pessoas como eu e você, provável leitor ou leitora, gente que é credenciada por uma universidade, gente que se não passou pela experiência de formação/trabalho nessas estruturas globalizadas, certamente tem na sua proximidade gente que passou (e passa) por isso, os formatos de “negacionismo” da ciência estabelecida, seja nas leis da economia, seja nas certezas que alimentam o poder sobre a vida do setor de saúde (e o iceberg empresarial que há por baixo), é muito desconfortável.
É deselegante, é ridículo.
Sans-culottes, não era esse o termo? Serão agora ungraduated esses deploráveis ingratos?
Tem uma revolução acontecendo.
Um evento caótico.
Revolução sem plano, pois uma revolução se faz pela mão dos homens, mas à revelia de sua vontade.
Espere o caos numa revolução.
Espere ondas.
Mas não espere a continuidade das ações conduzidas pelo grupo que estava no poder antes. Não espere, por exemplo, que os negócios de Lansky em Cuba se mantenham após a revolução.
E pessoas que perdem bilhões vão agir.
Mas e as tarifas?
As tarifas são um mo(nu)mento do caos.
O objetivo delas será forçar o mercado e o FED a baixarem a taxa de juros?
É uma hipótese.
Mas como tal tem o impacto de provocar um monte de operações financeiras sendo desfeitas, com prejuízos sendo realizados a ferro e fogo nesse caminho.
O objetivo foi dar um susto e forçar os países a uma negociação?
Bem, muita gente se rendeu, alguns optaram até por zerar suas tarifas em relação aos EUA.
Do ponto de vista simbólico pode parecer até uma vitória. Mas as tarifas não são reciprocidade em relação às tarifas de outros países, mas uma intimação de que os superávits comerciais devem ser zerados.
É muito fácil pensar que as tarifas são parte de um conflito entre China e EUA.
Muito de Chimérica não funciona sem a produção chinesa.
O caso mais grave, sem dúvida, será o de Walmart e Amazon, as economias planejadas que dependem da eficiência de uma produção que acontece dentro de uma economia socialista, com estruturas de planejamento socialistas e com significativa e estrutural propriedade do essencial do setor produtivo pelo estado.
A destruição causada pelo Walmart no tecido social americano, o estabelecimento de uma cadeia de fornecimento que basicamente exclui o setor manufatureiro americano, é problema antigo.
É a globalização na prática, as pessoas esperando cair o “bolsa-família” para poder comprar fraldas para as crianças, dez anos depois de Sem Logo, quinze anos antes desse caos ser atirado agora à mesa por Trump.
Mas nem só Wall Street e essas empresas, que ao fim e ao cabo são controladas por seus funcionários com credenciamento de nível superior, e não (apenas) por uma cabala de capitalistas ocultos, que estão na mira dessa revolução.
Fora dos EUA, dentro do Império, há todo um conjunto de capitalistas e credenciados construídos nesse status quo.
O que quer dizer que essa mudança nos EUA ameaça, não do ponto de vista de “eles vão apoiar Bolsonaro”, mas do ponto de vista de mudanças nas estruturas globais de produção e de finanças.
Hoje os EUA são o aspirador para o qual a produção mundial e o excedente de capital convergem.
Em função disso, países como China, Alemanha e Coreia do Sul podem manter seus modelos de exportar trabalho, sua produção industrial muito além do necessário, muito além do que sequer precisam trocar para obter os recursos que fazem sua economia industrial funcionar.
O déficit americano ajuda os outros países a aguentarem o déficit do consumo de manufaturas chinesas.
Nesse sentido, a China tem uma situação análoga a do imperialismo, muito embora a China não tenha imposto isso ao Sul Global.
A China herda, do descaso do Ocidente em organizar a produção, um mundo onde as elites locais foram construídas (e detém seu poder) a partir dessa relação imperialista, onde se ganha com a finança externa e a exportação daquilo que está ali por loteria geográfica, e não por trabalho, onde o investimento de infraestrutura é puxado e financiado por fora.
Pense o Brasil, que meio século atrás exportava café e carros (feitos de homens/hora) e agora exporta minério de ferro e soja.
Para o Agro, esse status quo é ótimo.
Para a Faria Lima, também.
A China não vai intervir nisso.
A China não vai impor seu modelo, seus valores.
A China vai negociar.
E se assim está bom para nós, pra ela está ótimo.
Só que com a participação dos EUA reduzida, há uma soma-zero a rolar entre China e restante do Ocidente.
E por mais que muita gente que construiu sua perspectiva de mundo no antiamericanismo possa ter ilusões de que China, Coreia e Japão, ou que China e Europa, venham a se articular e juntar contra os EUA, a questão de quem vai consumir esse excedente industrial, quem vai ter que mudar suas hierarquias em função desse desmonte do Império, fica ainda mais gritante.
Por fim, as tarifas também derrubam um dos pilares centrais do Império, a OMC.
Juntando com a saída do acordo de Paris, junto vão as ilusões de que os países participam de negociações multilaterais.
O Império ruiu.
Ideologia é o que a gente vive e não vê, e a foice chega agora rasgando a cortina, clamando a ação de desmontar esse edifício.
Esperem que a China seja o mais ativo agente na tentativa de botar de pé o que ainda existe de ordem internacional.
Ela terá sucesso, mas a ordem será outra diferente da que está aí.
Quem fez o Congresso de Viena acreditando em restauração acabou tomando a Pax Britannica.
Tempos interessantes!