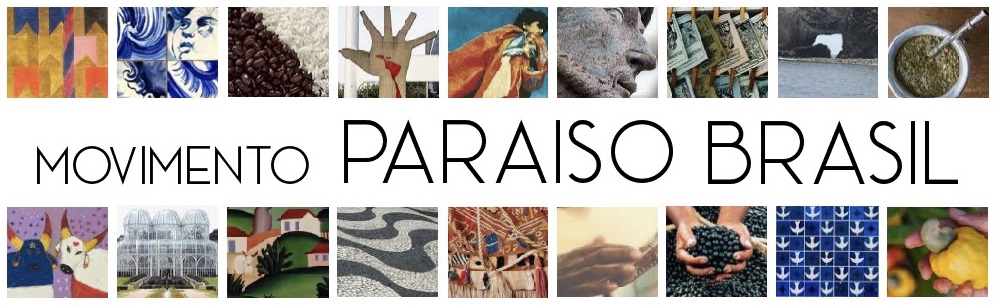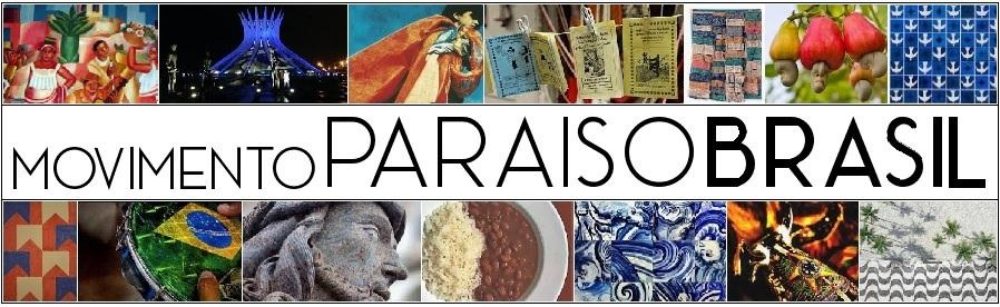Nos últimos anos, sobretudo após a pandemia de Covid-19, tenho observado, com desconforto crescente, que os semblantes carregados deixaram de ser exceção entre nós, profissionais da educação.
Tornaram-se expressão habitual.
O riso rareou, como se estivesse em exílio.
A vitalidade, quando aparece, parece simulada, sustentada não por entusiasmo genuíno, mas pela exigência de uma presença formal.
Nos corredores, nas reuniões, nas salas de aula, vejo olhos cansados e vozes retraídas.
As falas parecem carregadas de um sofrimento contido. Não se trata apenas de uma fadiga pontual.
Há algo mais denso, mais entranhado, que silencia até mesmo o desejo de falar sobre aquilo que se sente.
É nesse ambiente que o termo burnout passou a circular como explicação plausível, uma constatação quase hegemônica.
Está nas queixas informais, nas licenças médicas, nas estatísticas e nos relatórios das organizações.
]Tornou-se, de certo modo, o significante universal do sofrimento psíquico laboral contemporâneo.
Mas será que o burnout, sozinho, dá conta da complexidade que habita a exaustão dos trabalhadores?
A psicóloga Beata Mańkowska, da Universidade de Gdansk, enfrentou essa pergunta com profundidade em artigo recente publicado na Frontiers in Organizational Psychology (2025).
Segundo ela, mesmo após meio século de pesquisas, não há consenso sobre o que é o burnout, nem quais são suas dimensões essenciais.
O impasse teórico entre as grandes abordagens persiste. De um lado, Christina Maslach, da Universidade da Califórnia, defende uma concepção tridimensional, na qual o burnout se manifesta como exaustão emocional, cinismo em relação ao trabalho e declínio da eficácia profissional.
Essa perspectiva originou o Maslach Burnout Inventory (MBI), instrumento que há décadas orienta pesquisas e práticas institucionais (MASLACH; JACKSON, 1981; DE BEER et al., 2024).
De outro lado, Wilmar Schaufeli e Evangelia Demerouti propõem o modelo de recursos e demandas no trabalho, conhecido como Job Demands-Resources Model.
Nessa concepção, o burnout é resultado do desequilíbrio entre as demandas ocupacionais e os recursos disponíveis para enfrentá-las.
Surge quando as exigências do ambiente ultrapassam a capacidade adaptativa do trabalhador.
Ambos os modelos se firmaram como paradigmas, mas também como campos de disputa, mais inclinados à autodefesa do que à convergência (DEMEROUTI et al., 2001; HLADO; HARVANKOVA, 2024).
O artigo de Mańkowska (2025) revela que essa cisão teórica tem efeitos práticos.
Ela compromete o diagnóstico, dificulta a prevenção e perpetua confusões metodológicas.
Entre os exemplos mais preocupantes estão os usos indevidos do MBI, como a redução do burnout à exaustão ou a exclusão arbitrária de dimensões consideradas de menor correlação estatística.
A autora mostra que parte da literatura ignora a possibilidade de que o burnout não seja uma entidade clínica autônoma, mas um estágio de um transtorno maior, como a depressão, o que demanda outra abordagem terapêutica.
Estudos de Bianchi et al. (2021) reforçam essa hipótese, indicando sobreposição sintomática entre burnout e quadros depressivos.
Por outro lado, Schaufeli, em publicações mais recentes, parece revisar sua própria abordagem.
Em colaboração com Hans De Witte, propôs um novo instrumento, o Burnout Assessment Tool (BAT), que adiciona às dimensões tradicionais os componentes de prejuízo emocional e cognitivo.
A justificativa é que a exaustão, por si só, compromete a autorregulação mental e afetiva, e que o afastamento emocional do trabalho opera como um mecanismo de defesa ineficaz diante desse esgotamento.
O BAT demonstrou propriedades psicométricas robustas em diferentes contextos e faixas etárias, mas sua adoção ainda é incipiente (VILLACURA-HERRERA et al., 2025).
Essas divergências revelam algo incômodo.
A ciência do burnout, tão amplamente divulgada, ainda está marcada por fragilidade conceitual, disputas de autoridade e rigidez paradigmática.
E, enquanto isso, o sofrimento se alastra. Há profissionais da educação que se sentem exauridos, mas não se reconhecem nos modelos diagnósticos disponíveis.
Outros experimentam perdas de sentido, desencantamento profundo com a carreira e sensação de inutilidade.
Onde o diagnóstico falha, o cuidado também se perde.
Tenho encontrado, com frequência, colegas adoecidos, ainda que não necessariamente “burned out”.
Alguns já desistiram por dentro, mas seguem funcionando por fora.
E confesso que, mais de uma vez, também me vi nesse lugar ambíguo, onde o cansaço parece não ter fim.
Não é raro que o sofrimento psíquico seja tratado como falha individual e não como resultado de estruturas laborais excludentes, tóxicas e, por isso, profundamente insalubres.
Não, o burnout não me parece abranger tudo.
Há outras formas de sofrimento que não cabem nesse diagnóstico reducionista, outras feridas que permanecem ocultas nas estatísticas.
Reduzir a complexidade da saúde mental dos profissionais da educação a um único constructo pode até ser funcional para os protocolos institucionais, mas empobrece nossa compreensão e limita, de maneira preocupante, nossa capacidade de agir com responsabilidade e profundidade diante de um problema laboral tão grave.
Penso que é preciso ir além do diagnóstico e do tratamento como caso individual.
É preciso escutar o que escapa às escalas, o que não se encaixa nos modelos, o que pulsa por trás do silêncio.
A saúde mental no trabalho exige mais do que clínica um a um.
Exige compromisso ético, revisão das condições laborais, políticas institucionais coerentes, tempos de pausa, combate à intensificação do trabalho, ambientes menos tóxicos.
A medicina e a psicologia oferecem ferramentas importantes, mas só o cuidado coletivo e humanizado pode restituir a dignidade de tantos que adoecem enquanto tentam resistir.
Para isso, considero que seja fundamental reconhecer que a cultura organizacional, com seus valores tácitos e práticas normalizadas, exerce influência direta sobre o clima institucional e, por consequência, sobre a saúde psíquica de quem atua nesse espaço.
Trata-se de uma dimensão frequentemente negligenciada, talvez por sua complexidade, talvez pela resistência à quantificação e à qualificação das causas reais do sofrimento que afeta os profissionais da educação.
No entanto, é justamente ali, nos códigos implícitos de convivência, nos modos silenciosos de recompensa e exclusão, que parecem se forjar muitas das tensões que nos adoecem.
Quando práticas dissimuladas favorecem alguns em detrimento de outros, baseadas mais em redes de relacionamento do que em critérios técnicos ou éticos, instala-se um sentimento de injustiça difícil de ser sustentado com saúde.
A criação de círculos privilegiados e a divisão informal dos trabalhadores entre os que têm acesso a privilégios e os que são mantidos à margem, até mesmo do justo gozo de direitos, corroem o senso de pertencimento, alimentam o ressentimento e envenenam o ambiente de trabalho.
Ambientes assim se tornam, aos poucos, espaços tóxicos, nos quais o sofrimento deixa de ser episódico e passa a ser estrutural.
Mais do que um problema ético, trata-se de um risco institucional.
Quando o mal-estar se transforma em padrão e a exclusão em método, a organização se expõe não apenas ao adoecimento silencioso de seus trabalhadores, mas também à perda de legitimidade de seus gestores, a interpelações judiciais cada vez mais frequentes e ao desgaste contínuo de sua imagem pública.
Precisamos falar sobre a saúde mental dos profissionais da educação com coragem para reconhecer que não se trata apenas de uma questão de fundo psíquico, mas de algo que abrange a dimensão psicossocial e, por isso, deve ser enfrentada coletivamente com disposição para reconstruir e deixar como legado um ambiente de trabalho com mais justiça, mais escuta, mais saúde e mais humanidade.
REFERÊNCIAS
BIANCHI, Renzo; VERKUILEN, Jay; SCHONFELD, Irvin S.; HAKANEN, Jari J.; JANSSON-FRÖJMARK, Markus; MANZANO-GARCÍA, Guadalupe. Is burnout a depressive condition? A 14-sample meta-analytic and bifactor analytic study. Clinical Psychological Science, v. 9, p. 1–19, 2021. DOI: 10.1177/2167702620979597.
DE BEER, L. T., VAN DER VAART, L., ESCAFFI-SCHWARZ, M., DE WITTE, H., & SCHAUFELI, W. B. (2024). Maslach Burnout Inventory—General survey: A systematic review and meta-analysis of measurement properties. European Journal of Psychological Assessment. 40(5), 360–375, 2024.
DEMEROUTI, Evangelia; BAKKER, Arnold B.; NACHREINER, Friedhelm; SCHAUFELI, Wilmar B. The Job Demands-Resources Model of burnout. Journal of Applied Psychology, v. 86, n. 3, p. 499–512, 2001. DOI: 10.1037/0021-9010.86.3.499.
HLADO, Petr; HARVANKOVA, Klara. Teachers’ perceived work ability: a qualitative exploration using the Job Demands-Resources model. Humanities and Social Sciences Communications, v. 11, n. 1, p. 1-10, 2024.
MAŃKOWSKA, Beata. Burnout phenomenon still unresolved: the current state in theory and implications for public interest. Frontiers in Organizational Psychology, v. 3, 2025. DOI: 10.3389/forgp.2025.1549253.
MASLACH, Christina; JACKSON, Susan E. The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, v. 2, n. 2, p. 99–113, 1981. DOI: 10.1002/job.4030020205.
VILLACURA-HERRERA, C., ACOSTA-ANTOGNONI, H., MALDONADO, J., ARRIAZA, F., CANCINO-LETELIER, N., NVO-FERNÁNDEZ, M., & SCHAUFELI, W. B. Burnout Assessment Tool: a reliability generalisation meta-analysis. Work & Stress, 1-28, 2025.