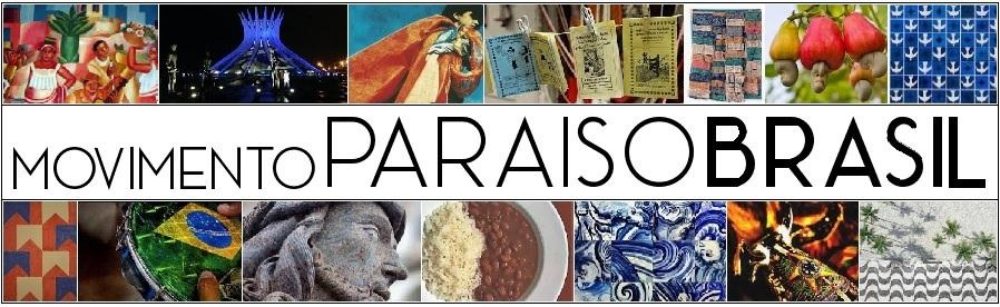Faz pouco tempo que tive contato com a obra do artista plástico Henry Moore (1898–1986), um dos mais relevantes escultores britânicos do século XX.
Suas esculturas em bronze e pedra combinam formas humanas abstratas com elementos orgânicos da natureza, expressando um profundo senso de humanismo.
Entre suas criações, a série Shelter Drawings (Desenhos dos Abrigos), concebida durante a Segunda Guerra Mundial, me sensibilizou de maneira particular.
Ao buscar mais sobre a vida do artista, soube que, durante os bombardeios da blitz aérea de Hitler contra a população civil, Moore visitou os abrigos subterrâneos do metrô de Londres e registrou, com traços densos e sombrios, famílias inteiras deitadas no chão frio, envoltas em trapos, tentando sobreviver ao terror.
Seus desenhos não apenas documentaram a precariedade daqueles refúgios, mas revelaram, sobretudo, a dignidade fragilizada, porém tenaz, daqueles que, mesmo à beira do colapso, insistiam em preservar o que ainda lhes restava de humanidade.
Em contraste com a sensibilidade indelével da obra de Moore, o que tenho visto e ouvido da Europa contemporânea me assombra.
A ascensão da extrema direita tem aproximado diversas nações, de forma inquietante, do mesmo fascismo que, há menos de um século, as lançou no abismo do horror.
Em tão pouco tempo, os fantasmas da desumanidade voltaram a circular em vestes novas, mas movidos pela mesma lógica perversa de exclusão, ódio e hierarquias que atribuem valor desigual às vidas humanas.
Custa-me compreender como tantos europeus possam responder com indiferença ao apelo dos que fogem das antigas colônias, forçados a emigrar pela guerra e pela fome resultantes da devastação econômica provocada por ciclos de exploração e políticas neoliberais.
Não se trata apenas de deslocamentos geográficos, mas de uma diáspora, de vidas abruptamente interrompidas por processos históricos nos quais a Europa teve papel central e que, em grande parte, seguem se reproduzindo por meio de acordos leoninos e sanções injustas.
Estas reflexões buscam na arte um farol de consciência para um continente que um dia foi referência para a humanidade.
A história mostra que, em tempos sombrios, foi a criação artística que iluminou e enfrentou a escuridão das almas, atuando como memória viva, denúncia e reinvenção do humano.
É preciso reafirmar, com firmeza, que a defesa da vida deve prevalecer sobre qualquer distinção étnica, religiosa ou nacional.
Quando o horror se banaliza e a compaixão se retrai, é a arte que ainda pode resgatar a dignidade perdida e convocar à fraternidade responsável.
Nesse sentido, as palavras de Primo Levi em Os afogados e os sobreviventes assumem um valor quase profético.
Concluído em 1986, no mesmo ano da morte de Henry Moore, o livro não se limita a relatar os horrores do Holocausto, mas investiga os mecanismos psicológicos, sociais e culturais que o tornaram possível e que, de forma perturbadora, ainda permanecem latentes. “Aconteceu, portanto, pode acontecer de novo”, declara Levi.
Essa advertência precisa ecoar com insistência nestes tempos de crescente extremismo político.
São sob esses entendimentos que a arte, aliada à memória e à consciência crítica, precisa seguir despertando a Europa e o mundo da anestesia moral que antecede os grandes colapsos da civilização.
Talvez ainda haja tempo.
Enquanto houver quem pinte e escreva, quem recorde e acolha, quem se recuse a aceitar a barbárie como normalidade, haverá uma centelha acesa.
Que os europeus reabram os abrigos, físicos e simbólicos, enquanto ainda são capazes de preservar alguma integridade diante do possível colapso moral que já brota em seu território.
Precisam fazê-lo antes que o cinismo leniente volte a se impor como única resposta possível, sob o disfarce de pragmatismo.
Afinal, eles próprios, mais do que qualquer povo de outro continente, não podem jamais perder a memória do que a inação diante da eclosão do ovo da serpente é capaz de desencadear contra toda a humanidade