Gabriel Galípolo e os demais indicados pelo presidente Lula para o comando do Banco Central ainda não disseram a que vieram.
São economistas competentes e, pelo que se sabe, de orientação econômica menos ortodoxa.
Mas até agora pouco mudou – talvez nada.
Visto de fora, é como se o Banco Central continuasse a ser presidido por Roberto Campos Neto – com a diferença de que o governo agora não tem mais o bode expiatório.
Não quero exagerar, entretanto.
A visão de fora pode não captar mudanças ocultas, em gestação.
E a verdade é que pouco tempo se passou desde a saída do presidente anterior.
Pode-se supor que Galípolo e os novos diretores ainda estejam tomando pé da situação.
Afinal, como ignorar que o Banco Central é uma instituição grande e complexa?
Não se dá cavalo-de-pau num transatlântico.
Vamos então dar o benefício da dúvida a Galípolo e cia.
Para entender a situação do comando do Banco Central neste momento é fundamental ter em conta, entre outros fatores, o seguinte fato básico: a política econômica obedece em alguma medida à influência do ciclo político.
A perspectiva de eleições influencia inevitavelmente a condução da política econômica, inclusive a monetária.
Do ponto de vista do governo brasileiro, faz sentido praticar políticas monetária e fiscal razoavelmente apertadas entre o final de 2024 e meados de 2025, de forma a conter um pouco a inflação, para em seguida relaxar a política econômica, no final de 2025 e início de 2026, ajudando a criar um clima mais propicio à reeleição de Lula (ou à eleição de quem ele resolver indicar em seu lugar).
Isso significaria começar a reduzir a taxa básica de juro nos próximos meses.
Um economista ortodoxo discordará e dirá certamente que o Banco Central tem autonomia em relação ao governo e não deve subordinar a seus objetivos político-eleitorais.
Isso é teoria, entretanto.
Na prática, os bancos centrais quase nunca são totalmente autônomos em relação ao poder político.
Acabam refletindo em alguma medida, de forma não declarada, a orientação geral do governo pelo qual os seus dirigentes foram indicados.
Evidentemente, o mandato do Banco Central requer obediência às metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Ora, a inflação e as expectativas de inflação estão “desancoradas”, isto é, superam o centro da meta (3%).
A política monetária deve então, argumenta-se, fazer a inflação convergir para a meta (ou, pelo menos, situá-la dentro do intervalo previso no regime de metas).
Porém, um risco central, sempre presente, é que alcançar a meta de inflação pode cobrar um preço proibitivo dos pontos de vista social e político.
De que adiantaria colocar a inflação no centro da meta e entregar o país de mão beijada para a direita ou a ultra direita em 2026?
Quando se considera o baixíssimo nível da oposição, tanto a bolsonarista, como a direita tradicional, a perspectiva é aterradora.
Parte do problema que estamos enfrentando, leitor ou leitora, está na definição da meta de inflação – 3% com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Estabelecer metas ambiciosas como essa contribui para forçar o Banco Central a praticar juros muito elevados.
O responsável por essa definição, recorde-se en passant, foi o presidente do Banco Central Ilan Goldfajn no governo Temer, uma das várias figurinhas carimbadas que exerceram esse cargo ao longo das décadas recentes.
Na época, o argumento “científico” era que a Colômbia e o Chile tinham meta de 3%.
Por que não o Brasil?
– argumentavam Goldfajn e seus asseclas.
Como dizia Brizola, a elite brasileira é um lixo.
O governo Lula deveria ter revisto a meta de inflação logo no seu início em 2023, como parecia querer o próprio Presidente da República.
Diversos economistas, inclusive eu mesmo, argumentaram que seria conveniente elevar o cento da meta para 3,5% ou 4%, aumentando ao mesmo tempo o intervalo entre o piso e o teto da banda de 1,5 para 2 pontos percentuais.
O teto para a meta ficaria em 5,5% ou 6%, o que permitiria absorver choques de oferta sem praticar juros exorbitantes.
Manteve-se entretanto a meta ambiciosa, com as consequências que estamos vendo.
Não há dúvida de que uma taxa básica de juro elevada pode ajudar no combate à inflação.
Como?
Primeiramente, porque tende a gerar apreciação do real, favorecendo o controle dos preços dos bens e serviços comerciáveis internacionalmente.
Em segundo lugar, porque derruba o nível de atividade e de emprego, comprimindo os preços dos bens e serviços transacionados domesticamente.
O problema, como se sabe, é que a redução ou desaceleração da atividade econômica, ao afetar o emprego e a renda, provoca deterioração do quadro social e prejudica o governo do ponto de vista político.
Além disso, tende a reduzir a arrecadação tributária, piorando o resultado primário das contas públicas.
Ainda mais importante do ponto de vista das finanças governamentais: a taxa básica de juro aumenta direta ou indiretamente o custo da dívida, que é majoritariamente interna.
A despesa líquida de juros do setor público consolidado já supera os 8% do PIB!
O propalado crescimento do déficit e da dívida do governo tem muito mais a ver com essa carga de juros do que com o déficit primário (que está em torno de 0,6% do PIB) – contrariamente ao que sustentam ou insinuam os economistas da Faria Lima e a mídia tradicional.
Não se pode esquecer, além disso, que os juros altos concentram a renda nacional.
Não é por acaso que a turma da bufunfa defende uma política monetária apertada.
Quem embolsa os juros pagos pelo governo?
Os ricos e super-ricos com elevada poupança financeira aplicada em títulos públicos.
O Banco Central está desfazendo, pelo menos em parte, o considerável progresso feito em termos de distribuição de renda pelo governo Lula em 2023 e 2024.
Um último ponto, nem sempre notado: a taxa de juro exorbitante coloca dinheiro nas mãos daqueles que têm meios de remeter recursos para o exterior quando bem entenderem.
Com a liberdade que se concedeu mandar dinheiro para fora, a turma da bufunfa faz o que bem entende, entrando e saindo do país quando lhe convém – um legado da desastrosa gestão Fernando Henrique Cardoso, que promoveu a liberalização prematura da conta de capitais.
Algo que a China, por exemplo, jamais fez.
Depois do último aumento da Selic, a taxa real de juros ex ante se aproxima de 10%!
Preciso dizer mais?
Por todos esses motivos econômicos, sociais e políticos, Galípolo e cia. não podem demorar a reduzir os juros.
***
Versão ampliada de artigo publicada na revista Carta Capital.
O autor é economista e escritor. Foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, de 2015 a 2017, e diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países em Washington, de 2007 a 2015. Publicou pela Editora Contracorrente o livro Estilhaços.
E-mail: paulonbjr@hotmail.com
Canal YouTube: youtube.nogueirabatista.com.br
Portal: www.nogueirabatista.com.br

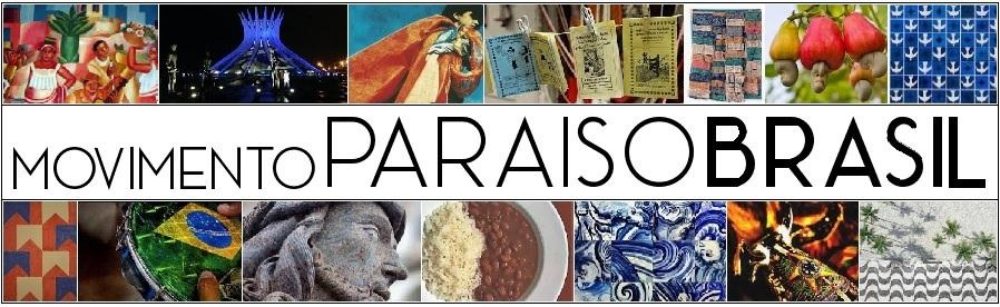

1j3hhi